Na seqüência de abertura, Limite (1931, de Mário Peixoto) parece um filme sem fim. Sob a primeira impressão, produz a sensação de infinitude, onde, em fusão, uma imagem se sucede a outra, e a outra, e a banda sonora contribui para uma situação, aparentemente, interminável, ainda que, paradoxalmente, finita. O que, de início, coloca em conflito a percepção, já que entramos em um jogo onde a matéria não dialoga, semanticamente, com o significado. Principalmente, porque, no decorrer de quase dez minutos, o que vemos são imagens terminais, uma realidade prestes a desaparecer ou, literalmente, naufragar: a imagem e a realidade de sujeitos à deriva – um homem e duas mulheres, visivelmente, náufragos, perdidos na imensidão do mar e presos aos limites de um barco. Assim, o objeto interminável se realiza não apenas no plano da materialidade fílmica, mesmo que, a princípio, o encadeamento de planos em abismo colabore para esta sensação de filme interminável – abutres sobre uma montanha, certamente, devorando alguma carniça dão lugar ao rosto de uma mulher com braços de um homem algemados por sobre seus ombros e, depois, apenas as mãos algemadas para, em seguida, o quadro ser preenchido pelos olhos fixos de uma mulher em direção a câmera.
Por diversos motivos, Limite é um filme tomado por uma certa aura mítica, que o torna unânime, absoluto e quase intocável. Portanto, indissociável das representações dos que o viram algum dia e, também, dos que nunca chegaram a ver suas imagens, constituindo-se num daqueles casos não tão raros na história do cinema: “amado por todos e visto por poucos”. Filme vinculado a um conjunto de construções mentais envolvendo a realização de uma obra por um jovem, pasmem, de apenas vinte e um anos de idade, que, independente das evidências, afirmava ter nascido em Bruxelas, Bélgica, em 1908, quando as provas diziam ser originário da Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil. Tomado, ao mesmo tempo, pela mítica da projeção única organizada pelo Chaplin Club, no Rio de Janeiro, em 1931, por sua não comercialização nas salas de cinema da época e por sua permanência no decorrer dos anos e das décadas em coleções privadas e arquivos públicos. Neste mês de maio, a mítica Limitechega ao Festival de Cannes, quando o diretor brasileiro Walter Salles o apresentar aCroissette por ocasião do lançamento oficial da World Cinema Foundation – associação sem fins lucrativos cujo objetivo é ajudar economicamente a preservação, a restauração e a difusão de filmes de todas as partes do mundo.
Independentemente de sua mítica, veneração e reconhecimento internacional, Limite aponta para nuances que, a cada seqüência, potencializa um cinema preso, sobretudo, a sua verdade, a realidade de sua câmera e de seu olhar sobre o mundo histórico. Praticamente, do início ao fim, Limite constrói o seu próprio paradigma, quando, ao intensificar e ampliar o drama de seus personagens, trabalha sobre um conjunto de imagens que diz respeito apenas a si mesmo. Impressiona como, mesmo diante da força e do poder da imagem de sujeitos à deriva isolados nos limites de um barco em pleno oceano, Mário Peixoto, cartograficamente, desloca a câmera sobre o espaço de seus personagens náufragos. Assim, a sensação, em Limite, é a de um filme cuja dimensão pertence, eminentemente, ao campo do cinema, voltada, única e exclusivamente, para a realidade que nasce e se desenvolve dentro da câmera. Proposição latente quando, por sua vez, a câmera se desloca dos corpos para o remo e, depois, para as bordas do barco, como se, apesar da desolação humana, a única realidade que importasse ao filme fosse apenas pedaços de madeiras, o balanço da barcaça e seus personagens – no entanto, como mais um dos objetos diante da consciência da câmera que gesta o seu próprio mundo.
Perdido no tempo durante décadas, quase integrando à assombrosa estatística do cinema mudo, onde, praticamente, 80% dos seus filmes desapareceram, Limite é resultado de nascimentos e mortes constantes. Desde o início, sua trajetória foi percorrida por poucos e marcada por algumas sessões especiais, como a programada para Orson Welles e Maria Falconetti. Em deterioração, depois que, em Londres, Sergei Eisenstein, supostamente, escreveu um artigo elogiando seu alcance cinematográfico e, no Rio de Janeiro, Georges Sadoul o nomeou como a “obra-prima desconhecida”, Limite começou a ser restaurado por Saulo Pereira de Mello e Plínio Süssekind, em 1959. Com isso, ninguém mais o viu até final da década de 70, o que contribuiu para a gestação do mito. Como obra inicial, realizada por um jovem que, nos anos 20, viveu no Velho Mundo, Limite resultou da associação de imagens, físicas e mentais. Passeando pelas ruas de Paris, Mário Peixoto se deparou com a fotografia de André Kertesz na edição #74 da revista VU (o rosto de uma mulher com mãos de um homem acorrentadas por sobre seus ombros) e, imediatamente, a associou a outras imagens que perseguiram seu pensamento no decorrer da noite (um mar de fogo com uma mulher agarrada no pedaço de madeira do resto de um barco).
Como imagem emblemática da solidão e desolação humana, da angustia de indivíduos em silêncio diante de suas limitações e impossibilidades, o barco à deriva com um homem e duas mulheres inertes em seu espaço diminuto, permanentemente, vem à tona. Intercalando a história de cada personagem que, aparentemente, nasce de memórias naúfragas, torna-se uma imagem recorrente e, a cada aparição, sentimos a força de sua presença como uma adaga, o poder da morbidez daqueles corpos inertes e o peso de cada passo, ação e olhar. Assim, Mário Peixoto a transforma em leitmotiv e a intensifica com a crueldade e secura da melancolia da música de Erik Satie que, a seu modo, constitui-se em outra recorrência estrutural e, cinematograficamente, fundamental para a infinitude que nos toma de assalto. Sem essa música (Gymnopedie N. 3), quando as exibições de Limite, literalmente, o tornavam um filme mudo, fico me perguntando como eram as sessões sem a sincronia entre imagem e som, a profundidade do olhar da personagem de Olga Breno e a sonoridade que entra por nossas veias. Mas, enfim, entre uma inserção e outra, o que se recorda e, em quadro, configura-se em seqüência são os deslocamentos de corpos por uma vila litorânea e campos de árvores secas e habitações abandonadas.
A cada deslocamento, quando, com a ajuda do carcereiro, uma das personagens sai da prisão e, em direção a sua casa, vemos outra jovem caminhar por ruas em silêncio e vazias com uma cesta de peixes a mão, a câmera de Edgar Brazil se comporta como um observador externo. Sob o comando de Mário Peixoto, a dimensão da câmera não utiliza como parâmetro a dimensão humana, pois o trabalho de angulação busca outros domínios (por exemplo, ao segurar por um certo tempo a imagem em ângulo ascendente de uma casa quando, por ela, a personagem passa e o quadro permanece) e, sutilmente, ajusta-se a outros vieses óticos (seja por sobre um poste observando o mundo de outra maneira, entre personagens em plongée s observá-los em plano ascendente ou em forma obliqua visando uma rua ao avesso ou a mulher que caminha pelo mundo rural). A realidade de suas lentes que, em nenhum instante, reproduz o mundo histórico através de um enredo, chega ao extremo, quando, fisicamente, acompanha a moça que sai da cadeia poela estrada deserta. Aparentemente acessório de um registro, a câmera se desloca ao mesmo tempo em que a personagem se movimenta. Repentinamente, esta sai de quadro e, como se tivesse vida própria, a câmera avança solitária tendo apenas o horizonte à frente para, em seguida, procurar o objeto de sua observação posta sobre a cerca de arame.
Independente como recurso narrativo, a câmera, a cada seqüência, centra seu foco na realidade de seu mundo, observando e construindo personagens e ações dentro da perspectiva, eminentemente, cinemática. Portanto, ao avançar e recuar, insistentemente, em direção ao chafariz e intensificar a dor da personagem de Taciana Rei no desespero de seu olhar para a infinitude do mar, o trabalho de Mário Peixoto nos dá sempre a certeza de que estamos diante de um filme e não de uma história. Em seu bojo, os homens se transformam em fantasmas, silhuetas e sombras, quando, próximo ao final, a cadeira em um cômodo se torna o ponto central da cena, da mesma forma que, em outros momentos, o vento varre uma rua deserta tomada por chapéus correndo sobre suas calçadas, uma janela e porta se fecham, o esqueleto de galhos e árvores secas, o casco e a hélice e leme de um barco. No entanto, emLimite, é como filme antigo que se impõe o mito da obra –fisicamente, riscada pelo tempo e marcada por cenas ausentes. A inserção, num dado momento, da cartela que substitui e informa a ação inexistente no negativo nos toca tão fortemente quanto o poder da imagem do barco à deriva, onde todos os corpos são inertes em suas limitações, incapazes de parar a moagem do tempo e a memória recorrente como os abutres que abrem e encerram o filme.
filme completo youtube





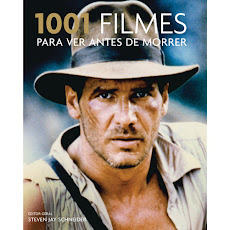

Amigos
ResponderExcluirYoutube informa
O ID da lista de reprodução está incorreto. Verifique o URL.
Grato
amicuscine